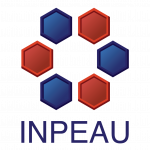Inclusão compromete a qualidade?

Fonte da foto: Currículo Lattes
Por Dilvo Ristoff
Há um persistente temor no meio acadêmico e na sociedade em geral de que a inclusão de estudantes pobres, pretos, pardos e indígenas levará ao afrouxamento de padrões e fará com que a qualidade da graduação piore. O temor, no entanto, não encontra sustentação nem nos dados do Prouni, nem nos do Sisu, nem em pesquisas realizadas por instituições que praticam há anos a política de cotas. Os dados demonstram que estamos mais uma vez diante de um mito.
Uma comparação do desempenho de prounistas e dos demais estudantes do setor privado no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) mostra que esse temor não se justifica. Convém relembrar que o Enade é aplicado todos os anos, mas os cursos estão divididos em três grupos, de modo que alunos do mesmo curso só fazem o exame de três em três anos. Na comparação de diferentes momentos em que os cursos realizaram o exame, os dados revelam o seguinte: no Grupo I, em 2007, os prounistas tiveram desempenho superior aos não-prounistas em 10 de 16 áreas avaliadas e em todas as 18 áreas avaliadas três anos mais tarde. No Grupo II, em 2008, os prounistas tiveram desempenho superior em 26 de 33 áreas avaliadas e em 31 de 33 áreas avaliadas, em 2011. E, por fim, em 2009, os prounistas do Grupo III tiveram desempenho superior em 23 de 26 áreas avaliadas e, em 2012, em todas as 26 áreas avaliadas. Essa tendência se mantém de 2005 até hoje.
Um estudo mais detalhado e recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) confirma essa tendência também para os anos 2015 a 2017 e faz ainda outra revelação interessante:“Os bolsistas integrais do Programa Universidades para Todos, o Prouni, no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) têm notas maiores que os bolsistas parciais e estudantes de escolas particulares que não participam do programa. Na média, o desempenho daqueles com bolsa integral entre 2015 e 2017 foi de seis pontos acima dos bolsistas parciais e 10 pontos acima dos demais alunos”. Infere-se, portanto, que não procede o argumento, tantas vezes repetido por críticos do programa, de que a inclusão promovida pelo Prouni tenha contribuído para que piorasse a qualidade do ensino superior privado. Os dados, salvo melhor juízo, indicam o contrário.
Valorização da oportunidade
A explicação para esse desempenho superior dos prounistas é, em geral, atribuída a uma suposta valorização maior, por parte dos bolsistas, da oportunidade de estarem na educação superior. Essa valorização maior os levaria a dedicarem-se mais aos estudos. Essa tese ganha força quando observamos que os dados do Inep indicam que, ano após ano, a taxa acumulada de desistência dos prounistas, embora alta, é significativamente menor que a dos não prounistas. Em 2016, a desistência acumulada de prounistas somava 41% e a dos não prounistas, 62%. Da mesma forma, a taxa acumulada de conclusão dos prounistas é significativamente maior ano após ano. Para fins de comparação: em 2016, os prounistas tiveram uma taxa de conclusão de 56% contra apenas 35% dos não prounistas.
A conclusão do Ipea – um estudo que envolveu em torno de 430 mil estudantes – mostra que há fortes indícios de que, de fato, o prounista, com bolsa integral, valoriza sobremaneira a vaga conquistada e isso explicaria por que o seu desempenho é superior ao dos demais. A conclusão não pode, no entanto, ser tomada como definitiva, pois outros fatores podem interferir no desempenho dos estudantes. Cruzamentos realizados pelo Inep indicam que os prounistas, já quando do ingresso, demonstram ter, no Enem, desempenho superior ao dos pagantes. Enquanto os pagantes têm seus escores altamente concentrados em torno dos 450 pontos, os escores dos prounistas se concentram numa faixa cem pontos acima.
O seu nível de ingresso é, portanto, mais alto. Além disso, embora a exigência seja de, no mínimo, 450 pontos, a disputa por uma vaga para concorrer à bolsa do Prouni exige, em muitos cursos, bem mais do que essa pontuação. Isso permite selecionar estudantes com escores bem acima do mínimo exigido. Para pagantes não há essa exigência e, para os estudantes que buscam financiamento estudantil pelo Fies, a pontuação mínima passou a existir somente a partir de 2015, inspirada no exemplo do Prouni.
Por essas razões, é possível inferir que o Prouni passou a levar ao campus privado alunos mais bem preparados do que os que até então o frequentavam. É um equívoco, portanto, atribuir, como fazem alguns, aos prounistas a responsabilidade por uma suposta piora na qualidade do ensino superior privado. Convém relembrar, além disso, que os prounistas representam apenas uma pequena parcela dos matriculados no setor privado.
Cotistas
Nas instituições públicas federais e em 28 estaduais, o Sistema de Seleção Unificada – Sisu, da mesma forma que o Prouni, faz uso das notas do Enem em suas políticas de acesso. Os dados mostram que, no Sisu, os participantes da ampla concorrência, em geral, têm escores um pouco mais altos do que os dos cotistas. Por estarem numa escala de 1.000 pontos, os escores deixam a impressão de que a diferença entre os dois grupos é enorme. No entanto, ao transformamos essa escala em uma escala de 10 pontos – em geral utilizada por professores brasileiros ao avaliarem seus estudantes –, percebemos que a diferença é pequena, tão pequena que, em geral, seria desfeita por arredondamentos: 6,8, 7,1 ou 7,2 se tornariam apenas 7,0. A se considerar verdadeira a percepção generalizada de que o estudante cotista valoriza mais a vaga conseguida, ele certamente compensará com facilidade os décimos de desvantagem na hora do ingresso. Não surpreende, por isso mesmo, que estudos como o de Mendes Junior, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) – instituição pioneira na implantação de sistema de cotas no Brasil –,concluam que, embora o desempenho dos cotistas seja em média inferior ao dos demais estudantes, as suas taxas de evasão e abandono são menores e as suas taxas de titulação, invariavelmente, maiores.
Os dados, portanto, nos permitem inferir que é um equívoco afirmar que o processo de inclusão dos grupos historicamente subrepresentados (pretos, pardos, indígenas, pobres e estudantes oriundos das escolas públicas) na educação superior implicará uma redução de níveis de exigência ou o afrouxamento dos padrões de qualidade. Políticas bem construídas, com um nível mínimo de exigência para acesso, derrubam categoricamente esse mito. E, claro, eventuais deficiências, quando ou se existirem, poderão ser, e muitas vezes são, compensadas ou pela maior valorização dos estudantes da oportunidade recebida ou por políticas institucionais de apoio pedagógico. Em suma, esse mito, escudado no falso discurso da qualidade, só se sustenta no preconceito advindo do elitismo histórico de nossa educação, não nos dados.
A verdade nua e crua é que, antes de Prouni e Sisu, muitos desses estudantes não estavam na educação superior simplesmente porque eram pobres.
*Dilvo Ristoff: é doutor em literatura pela University of Southern California, nos Estados Unidos. Foi diretor de Estatísticas e Avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), diretor de Educação Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e diretor de Políticas e Programas da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC). Foi também reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. É autor e coautor de inúmeros livros, entre eles, Universidade em foco − reflexões sobre a educação superior (Editora Insular, 1999), Neo-realismo e a crise da representação (Insular, 2003) e Construindo outra educação: tendências e desafios da educação superior (Insular, 2011). Atualmente ministra aulas e orienta dissertações no Programa de Mestrado em Métodos e Gestão em Avaliação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Este artigo é de responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a visão do INPEAU