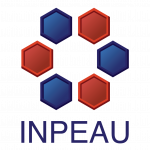O campus híbrido – Por Dilvo Ristoff

Fonte da foto: Currículo Lattes
A atual pandemia tornou mais evidente a necessidade de se pensar em espaços de aprendizagem para além da sala de aula tradicional. Mostrou também a necessidade e as vantagens de se fazer uso de plataformas digitais para acesso a conteúdo e materiais didáticos e para a interação dos indivíduos. O impressionante número de conferências, seminários, cursos, minicursos e debates virtuais ocorridos nos últimos meses indica que estamos, decididamente, diante de mudanças profundas.
Apesar dessas mudanças, que inexoravelmente ocorrerão nos próximos anos, a experiência humana indica que somos seres que não conseguem prescindir do convívio social. Com as aulas suspensas, com os jogos olímpicos cancelados, com os campeonatos de futebol, vôlei e de todas as modalidades esportivas interrompidos, com teatros fechados, com os shows artísticos cancelados, a tendência foi viabilizar, na medida do possível, as ‘mesmas’ atividades na segurança do isolamento possibilitada pelas novas tecnologias (Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, etc.).
O abraço foi substituído pelo abraço emoji, a conversa tête-à-tête pelo chat ou a videochamada e a roda de conversa com amigos e colegas de trabalho pelo encontro no Zoom ou no Google Meet. E a televisão, na ausência do esporte ao vivo, encontrou a compensação na exibição de reprises de grandes jogos do passado, celebrando a experiência coletiva. Por tudo isso, muitos consideram inadequado falar em ‘distanciamento social’. Preferem a expressão ‘distanciamento físico’, pois o convívio social, embora de forma virtual, mantém-se intenso.
Fica claro, no entanto, que o desejo pelo convívio social entra em rota permanente de colisão com a presença ausente possibilitada pelas novas tecnologias. Este instintivo desejo pelo coletivo, para além das necessidades econômicas de indivíduos e do negacionismo politicamente estimulado, tem se tornado um entrave para a contenção da pandemia, pois as pessoas insistem em estar em grupos, em se encontrar em espaços públicos. Muitos sistematicamente desafiam as autoridades e a própria sorte, organizando festas clandestinas, reuniões ilegais e secretas, indo à praia ou a manifestações políticas de toda sorte. Em plena pandemia, os protestos a favor e contra o governo, embora mais reduzidos, nunca deixaram de acontecer. E no mundo, em especial nos EEUU, os protestos contra o racismo, emblematizados pelo movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) ganharam, em plena pandemia de 2020, uma força não vista desde a década de 1960. Fica evidente, portanto, que essa presença ausente não é um substituto satisfatório para as experiências coletivas. Protestar pelas redes sociais já não basta! Assim como a ausência das torcidas nos estádios retira a força do time da casa e o jogo de futebol, assistido pela televisão, não propaga a mesma vibração da torcida num estádio lotado, assim também o emoji do dedão na mensagem do WhatsApp ou na curtida no Facebook parece não substituir adequadamente a concordância cara a cara e olho no olho.
Novo campus
Transferindo estas reflexões para o ambiente do campus, infere-se que o sentimento de pertencer a um grupo, a uma equipe, a uma comunidade acadêmica não é questão trivial. Como bem destaca Nisbet, “a universidade é e tem sido desde as suas origens uma comunidade. E a marca de todas as comunidades é a tentativa de preservar a identidade singular de seu trabalho. E o trabalho da comunidade universitária, por quase oito séculos, tem sido o conhecimento”. É nesse ambiente, onde as atividades giram em torno do conhecimento e onde são identificados os talentos para estudos avançados, que se criam também as amizades duradouras, as relações de confiança, as parcerias que nos estimulam e motivam para a aprendizagem e para a construção de redes de relações. Talvez esteja aí um pouco da explicação para a constatação de Sebastian Thrun, um dos papas dos MOOCs, do porquê “pouquíssimas pessoas parecem concluir os seus cursos quando não estão sentados em uma sala de aula”.
Diante do desenvolvimento acelerado e do uso cada vez mais intenso das novas tecnologias, não há dúvida de que o campus do futuro deixará de ser apenas um lugar para tornar-se um campus híbrido, onde o físico e o virtual não só se encontram, mas também se temperam, se inspiram, se misturam e se renovam. O impulso pela convivência coletiva, pela preservação do sentimento de comunidade, com uma função singular e meritória, manterá esse espaço público como uma referência básica para o avanço do conhecimento e para a necessária negociação em torno dos valores científicos, estéticos e éticos – da ciência, da arte e da justiça – que fazem a vida valer a pena. Diante disso, o campus do futuro será, com certeza, um admirável campus novo: um espaço físico-virtual capaz de produzir e disseminar o saber como nunca antes.
*Dilvo Ristoff é doutor em literatura pela University of Southern California, nos Estados Unidos. Foi diretor de Estatísticas e Avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), diretor de Educação Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e diretor de Políticas e Programas da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC). Foi também reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. É autor e coautor de inúmeros livros, entre eles, Universidade em foco − reflexões sobre a educação superior (Editora Insular, 1999), Neo-realismo e a crise da representação (Insular, 2003) e Construindo outra educação: tendências e desafios da educação superior (Insular, 2011). Atualmente ministra aulas e orienta dissertações no Programa de Mestrado em Métodos e Gestão em Avaliação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Este artigo é de responsabilidade do autor e não reflete necessariamente a visão do INPEAU